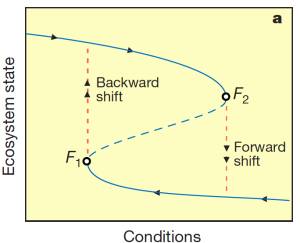Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
Ensaios de 2014
Estados alternativos no Cerrado e o uso de fogo na manutenção da resiliência
Paula Zaterka Giroldo
Transições críticas e mudanças bruscas foram constatadas em sistemas biológicos, físicos, econômicos e sociais sob a luz da teoria de sistemas dinâmicos, uma área da matemática usada para descrever a interação entre inúmeros tipos de processos (Scheffer, 2009). Esta teoria fornece ferramentas para a descrição e entendimento do comportamento de sistemas que apresentam estados múltiplos (Fig. 11) ), dentre os quais sistemas biológicos.
Ao contrário de sistemas que apresentam transições graduais, sistemas com estados múltiplos ou alternativos apresentam transições “catastróficas” entre estados estáveis de um sistema. A transição catastrófica entre estados alternativos ocorre a partir de um limiar crítico que promove o colapso do equilíbrio estável. Note, entretanto, que as condições responsáveis pelas transições entre estados alternativos (“forward shift” e “backward shift”) possuem valores diferentes (F1 e F2, respectivamente) e ocorrem sob condições críticas distintas, fenômeno conhecido por histerese (Scheffer et al. 2001; Scheffer, 2009). Esse conceito é importante, pois revela que a transição “catastrófica” não é facilmente revertida (Scheffer, 2009).
O modelo demonstra que para determinado conjunto de condições dois ou mais estados alternativos de um sistema podem existir e que a perda de resiliência pode ser um indicador da proximidade do limiar catastrófico (Scheffer et al., 2009). Nesse sentido, manter a resiliência do estado de um sistema seria uma das maneiras de afastá-lo dos limiares de mudança de estado (Folke et. al, 2004), garantindo a sua conservação.
A existência de estados alternativos em sistemas biológicos foi constatada em diferentes escalas espaciais e destacam-se os estudos em macro escala com recifes de coral (Knowlton, 1992), desertos (deMenocal et al., 2000), florestas de Kelp (Konar & Estes, 2003) e florestas (Hirota et al., 2011). Hirota e colaboradores (2011), por exemplo, analisaram a distribuição de cobertura florestal na África, América do Sul e Austrália e encontraram forte evidência de que florestas, savanas e campos são estados múltiplos de um mesmo sistema, sendo que a resiliência dos estados depende principalmente da precipitação.
Quando este estudo é projetado no modelo teórico, portanto, florestas e savanas são estados alternativos de um mesmo sistema e um determinado limiar de precipitação promove a transição catastrófica de cobertura florestal. Neste caso uma ação de manejo – como garantir a chegada de água no sistema (simulando a precipitação) – demonstra a histerese, já que regar uma formação savânica não garante que ela se transforme em uma formação florestal.
Se por um lado podemos reconhecer estados alternativos em uma escala continental ou global, também podemos reconhecer a existência de estados alternativos dentro de grandes formações vegetais. No caso de fisionomias savânicas, por exemplo, outros fatores como o fogo e a herbivoria determinam suas fisionomias (Dublin et al., 1990; Van Langevelde et al., 2003; Hoffmann et al. 2012; Pausas, 2015). Evidências demonstram que fisionomias de Cerrado são estados alternativos de um mesmo sistema e que os limiares estão relacionados a características funcionais e filogenéticas associadas com diferentes regimes de fogo 2) (Dantas et al. 2013).
O fogo é um fator ecológico essencial nas savanas e promotor de sua evolução (Bond et al., 2005). No Cerrado brasileiro a incidência de incêndios remonta a milhares de anos, como é revelado por amostras de carvão datadas entre 27 e 41 mil anos atrás (Vicentini, 1993), ou mesmo milhões de anos, como sugerem evidências biológicas (Simon et al., 2009). Inúmeras estratégias adaptativas ao fogo frequente são reconhecidas na vegetação nativa do Cerrado (Coutinho 1990; Guedes 1993; Medeiros 2002) e a maior parte de suas fisionomias são consideradas como ecossistemas dependentes do fogo (Hardesty et al., 2005; Pivello, 2011), o que significa que a manutenção de espécies e de processos ecológicos está diretamente ligada à ocorrência de queimadas.
Devido à crescente descaracterização dos regimes naturais de incêndio nos ecossistemas que dependem dele (Hardesty et al., 2005; Pivello, 2011), organizações internacionais têm chamado atenção para a importância de queimadas na conservação desses sistemas e para o estabelecimento de manejo com fogo adequado (Myers, 2006). Apesar de pouco usual no Brasil, o manejo com fogo é utilizado mundo afora e é apontado como uma alternativa no controle de plantas e patógenos indesejáveis (Young et al., 1999; Zimdahl, 1999; Stolle et al., 2003; DiTomaso et al., 2006), na manutenção de comunidades vegetais (Wright & Bailey 1982; Bunting et al. 1987; Pivello, 1992; Pivello, 2006a), na redução de material combustível para evitar incêndios (Pivello, 1992; Williams et al., 1999; Fernandes & Botelho, 2003; Pivello, 2006b) e para restaurar regimes de fogo (Bonnicksen & Stone, 1985; Baker, 1994; Pivello, 2011). O fogo, portanto, poderia ser utilizado a fim de garantir a resiliência do estado de um sistema dependente de queimadas.
A presença de espécies invasoras exóticas é um dos fatores responsáveis pela intensificação de mudanças na composição, estrutura e nos processos naturais no Cerrado, especialmente no regime de fogo (D’Antonio, 2000; Brooks et al., 2004; Gorgone-Barbosa et al., 2014). Estas espécies atingem alta densidade e dominância nas comunidades invadidas alterando a composição do solo, ciclagem de nutrientes, produtividade, microclima, disponibilidade de luz, biomassa, água e alimento para a fauna nativa (D’Antonio & Vitousek, 1992; Hughes & Vitousek, 1993; Mack et al., 2000), fazendo com que a utilização de queimadas prescritas não seja tão trivial.
Plantas nativas e exóticas tendem a responder de maneiras distintas à freqüência e intensidade das queimadas. A princípio é esperado que espécies invasoras apresentem vantagens em relação às espécies nativas na ausência do fogo, mas não na presença do fogo (Freckleton, 2004). A queimada pode, por exemplo, diminuir a fecundidade e inibir o desenvolvimento das sementes de algumas espécies exóticas, favorecendo as nativas (Gillespie & Allem, 2004). No entanto, quando é o caso de espécies invasoras oriundas de ecossistemas dependentes de fogo, queimadas podem estimular o seu crescimento. Este é o caso de uma das espécies invasoras mais agressivas no Cerrado, de origem africana e popularmente conhecida como Brachiária (Urochloa decumbens) (D´Antonio & Vitousek, 1992; Filgueiras, 1990).
O uso do fogo como estratégia de manejo em áreas protegidas está previsto na legislação brasileira, mas a sua utilização ainda é uma questão polêmica. Como consequência, há uma grande lacuna no conhecimento das respostas da vegetação nativa e exótica à queima. Integro atualmente um grupo de pesquisa que pretende explorar, entre outras questões, o uso do fogo como estratégia de manejo em áreas de Cerrado com a presença e ausência de espécies invasoras. Dentro desse contexto, me proponho a trabalhar com queimadas experimentais para avaliar o efeito da sazonalidade do fogo na comunidade nativa de Cerrado, contribuindo com a expansão da base de conhecimento sobre efeitos do fogo no Cerrado e avaliando o potencial do uso de queimadas prescritas como estratégia de manejo. Dada frequência e época adequadas, o uso de queimadas prescritas poderia garantir a manutenção da resiliência do sistema e exercer controle sobre a invasão, diminuindo a dominância das invasoras e aumentando a diversidade de espécies nativas, principalmente em ambientes naturalmente susceptíveis ao fogo (D’ Antônio 2000; Pivello 2006). Em condições inadequadas, entretanto, poderia facilitar a invasão. Diante desta situação é indispensável que se promova a experimentação in loco para fornecer as informações ainda desconhecidas e necessárias ao manejo e conservação das comunidades nativas de Cerrado.
Agradecimentos Obrigada a Vânia e Alessandra pela paciência e orientação e aos amigos Vitor, Diana e Gabi pelas sugestões!
Referências Bibliográficas
BAKER W.L. 1994. Restoration of landscape structure altered by fire suppression. Conservation Biology 8:763–769.
BONNICKSEN T.M. & STONE E.C. 1985. Restoring naturalness to national parks. Environmental Management 9:479–486. Bradstock.
BUNTING S.C., KILGORE B.M. & BUSHEY C.L. 1987. Guidelines for pre- scribed burning sagebrush-grass rangelands in the northern Great Basin. General Technical Report INT-231. USDA Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden, Utah.
COUTINHO L.M. 1990. Fire in the ecology of Brasilian cerrado. In. J. G. Goldamer (ed.) Fire in the tropical biota ecosystem processes and global challenges. p. 273-291. Springer-Verlag. Berlim, Germany.
D’ANTONIO, C.M. & VITOUSEK, P.M. 1992. Biological invasions by exotic grasses, the grass/fire cycle, and global change. Annual Review of Ecology and Systematics 23: 63-87.
D’ANTONIO, C.M. 2000. Fire, plant invasions and global change. In: Invasive species in a changing world (ed. H. A. Mooney & R. J. Hobbs). Washington, DC: Island Press.
DANTAS V., BATALHA, M.A. & PAUSAS J.G. 2013. Fire drives functional thresholds on the savanna-forest transition Ecology 94:2454-2463.
DEMENOCAL, P.; ORTIZ, J.; GUILDERSON, T.; ADKINS, J.; SARNTHEIN, M.; L. BAKER & M. YARUSINSKY. 2000. Abrupt onset and termination of the African Humid Period: rapid climate responses to gradual insolation forcing. Quaternary Science Reviews, 19:347-361.
DITOMASO J.M., BROOKS M.L., ALLEN E.B., MINNICH R., RICE P.M. & KYSER G.B. 2006. Control of invasive weeds with prescribed burning. Weed Technology. 20: 535-48.
FERNANDES P. M. & BOTELHO H. S.. 2003. A review of prescribed burning effectiveness in fire hazard reduction. International Journal of Wildland Fire 12:117–128.
FILGUEIRAS, T.S. 1990. Africanas no Brasil: Gramíneas introduzidas da África. Cad.
FOLKE, C.; CARPENTER, S.; WALKER, B.; SCHEFFER, M.; ELMQVIST, T.; L. GUNDERSON & C.S. HOLLING. 2004. Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst., 35:557-581.
FRANK VAN LANGEVELDE, CLAUDIUS A. D. M. VAN DE VIJVER, LALIT KUMAR, JOHAN VAN DE KOPPEL, NICO DE RIDDER, JELTE VAN ANDEL, ANDREW K. SKIDMORE, JOHN W. HEARNE, LEO STROOSNIJDER, WILLIAM J. BOND, HERBERT H. T. PRINS, AND MAX RIETKERK 2003. Effects of fire and herbivory on the stability of savanna ecosystems. Ecology 84:337–350
FRECKLETON, R.P. 2004. The problems of prediction and scale in applied ecology: the example of fire as a management tool. Journal of Applied Ecology 41: 599 – 603. Geociências 5:57-63.
GILLESPIE, I.G. & ALLEM, E.B. 2004. Fire and competition in a Southern California grassland: impacts on the rare forb Eradium macrophyllum. Journal of Applied Ecology 41: 643-652.
GORGONE-BARBOSA, E. ; PIVELLO, V.R. ; BAUTISTA, S. ; ZUPO, T. ; RISSI, M.N. ; FIDELIS, ALESSANDRA . How can an invasive grass affect fire behavior in a tropical savanna? A community and individual plant level approach. Biological Invasions , v. 17, p. 423-431, 2015.
GUEDES D. M. 1993. Resistência das árvores do cerrado ao fogo: papel da casca como isolante térmico. Brasília, UnB, 1993. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Universidade de Brasília.
HARDESTY J., MYERS R., & FULKS W. 2005. Fire, ecosystems, and people: a preliminary assessment of fire as a global conservation issue. The George Wright Forum, 22: 78-8.
HIROTA, M.; HOLMGREN, M.; E.H. VAN NES & M. SCHEFFER. 2011. Global Resilience of Tropical Forest and Savanna to Critical Transitions. Science, 334:232-235.
HOLLY T. DUBLIN, A.R.E. SINCLAIR AND J. MCGLADE. 1990. Elephants and Fire as Causes of Multiple Stable States in the Serengeti-Mara Woodlands Journal of Animal Ecology. Vol. 59, No. 3. 1147-1164.
HUGHES, R.F. & VITOUSEK, P.M. 1993. Barries to shrub reestablishment following fire in the seasonal submontane zone of Hawai’i. Oecologia. 93: 557-563.
KNOWLTON N. 1992. Thresholds and multiple stable states in coral reef community dynamics. Am Zool 32:674-82.
KONAR, B. & J.A. ESTES. 2003. The stability of boundary regions between kelp beds and deforested areas. Ecology, 84:174–178.
MACK, R.N; SIMBERLOFF, D; LONDSDALE, W.M.; EVANS, H; CLOUT M. & BAZZAZ, F.A. 2000. Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, ando control. Ecological Applications 10: 689-710.
MEDEIROS M. B. 2002. Efeitos do fogo nos padrões de rebrotamento em plantas lenhosas, em campo sujo. Brasília: UnB, 2002, 122p. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília.
MYERS R.L. 2006. Convivendo com o Fogo — Manutenção dos Ecossistemas e Subsistência com o Manejo Integrado do Fogo. Tradução de Margaret Batalha. The Nature Conservancy - Iniciativa Global para o Manejo do Fogo. Tallahassee, USA.
PAUSAS, J.G. 2015. Alternative fire-driven vegetation states. Journal of Vegetation Science 26: 4-6
PIVELLO V.R. 1992. An expert system for the use of prescribed fires in the management of Brazilian savannas. Tese de Doutorado. Ascot, Inglaterra, Imperial College Centre for Environmental Technology, University of London.
PIVELLO V.R. 2006a. Manejo de fragmentos de cerrado: princípios para a conservação da biodiversidade. In: Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. A. Scariot, J. C. Sousa Silva & J. M. Felfili (Eds.). Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF. pp.402-413.
PIVELLO V.R. 2006b. Fire management for Biological Conservation in the Brasilian Cerrado. In: J. Mistry & A. Berardi, Savanas and Dry Forests - Linking People with Nature. Ashgate, Hants. pp. 129-154.
PIVELLO V.R. 2011. The use of fire in Brazil: past and present. Fire Ecology, 7: 24-39.
SCHEFFER, M. 2009. Critical Transitions in Nature and Society, Princeton University Press.
SCHEFFER, M.; CARPENTER, S.R.; FOLEY, J.A.; C. FOLKE & B. WALKER. 2001. Catastrophic shifts in ecosystems. Nature, 413: 591-596.
SCHEFFER, MARTEN; BASCOMPTE, J. BROCK, W. A; et al. Early-warning signals for critical transitions. Nature, v. 461, n. 7260, p. 53-9, 3 set 2009.
SIMON M.F., GRETHER R., QUEIROZ L.P., SKEMA C., PENNINGTON R.T. & HUGHES, C.E. 2009. Recent assembly of the cerrado, a neotropical plant diversity hotspot, by in situ evolution of ad aptations to fire. Proceedings of the National Academy of Science, 106: 20.359-20.364.
STOLLE F., CHOMITZ K. M., LAMBIN E. F., & TOMICH. T. P. 2003. Land use and vegetation fires in Jambi Province, Sumatra, Indonesia. Forest Ecology and Management 179:277–292.
VICENTINI K. R. F. 1993.Análise Palinológica de uma Vereda em Cromínia-GO. Brasília: UnB, 1993. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Universidade de Brasília.
WILLIAMS R. J., COOK G. D., GILL A. M., & MOORE P. H. R. 1999. Fire regime, fire intensity and tree survival in a tropical savanna in northern Australia. Australian Journal of Ecology 24:50–59.
WRIGHT H. A. & BAILEY A. W. 1982. Fire ecology: United States and southern Canada. Wiley-Interscience, New York.
YOUNG III W. C., MELLBYE M. E. & T. B. SILBERSTEIN. 1999. Residue management of perennial ryegrass and tall fescue seed crops. Agronomy Journal 91:671–675.
ZIMDAHL R. L. 1999. Fundamentals of weed science. Academic Press, San Diego, California. 284.
“Pegada e caminho”, Processos históricos e biogeográficos
Daniel Andrés Chirivi Joya
Podemos pensar nos processos históricos biogeográficos como o conjunto de eventos que têm acontecido para gerar as distribuições atuais das espécies sobre o planeta, e as distribuições que se apresentaram no passado (Crisci, 2001), é como uma historia da qual somente conhecemos pequenos relatos isolados e algumas consequências evidenciáveis. Qual foi o caminho recorrido para que as populações e comunidades tenham chegado ate o ponto atual, e quais processos tiveram maior influência nesse resultado? Esta pergunta constitui a base para compreender como evoluiu a diversidade sobre o planeta e como evoluirá no futuro (Monge, 2008). Como pensaria qualquer bom pesquisador, o ideal é procurar as pegadas que ainda são visíveis para traçar uma hipótese de caminho; porém, o que acontece como aquelas pegadas que têm sido apagadas pelos ires e vires da historia? Ou, que podemos fazer quando encontramos uma grande quantidade de pegadas que parecem coincidir em espaço, mas não em tempo ou direção? O tempo em que formam feitas essas pegadas, e sua direção pode alterar a versão da historia que contamos, assim também o fato de não saber se essas pegadas correspondem ao mesmo “sujeito” ou um mesmo processo (Ronquist & Sanmartin, 2011). Uma opção é achar padrões dentro destes processos, nenhuma historia é sempre igual, portanto, saber exatamente como aconteceu cada evento, como se formou cada comunidade poderia resultar extremamente difícil, ainda assim, se podemos achar uma linha lógica dentro da qual interagem todos os processos, poderíamos explicar boa parte da historia, as linhas do curso recorrido (Ronquist & Sanmartin, 2011).
Darwin e Wallace começaram a estudar as distribuições das espécies ao redor do planeta, percebendo alguns padrões na distribuição que foram importantes para o desenvolvimento da teoria evolutiva (Ronquist & Sanmartin, 2011), nesta tarefa se começa a relacionar geografia, diversidade e evolução o qual consolidou o que conhecemos como biogeografia (Crisci, 2001). Esta ciência que tem sido abordada desde uma grande variedade de perspectivas, as quais podem se agrupar em duas correntes: biogeografia histórica, combinando filogenia e geografia, na qual se avalia a historia evolutiva das linhagens, em relação a eventos e padrões geográficos; e a biogeografia ecológica, incorporando conceitos como grupos funcionais e constantes ambientais, nas quais se incorpora o conceito nicho e as dinâmicas de populações e comunidades os quais se associam as condições geográficas (Posadas et. al., 2006; Wiens & Donoghue, 2004). Estas visões se desenvolveram separadas, a biogeografia ecológica procura explicações determinísticas a uma escala temporal curta incluindo interações entre as espécies e o ambiente, em quanto, a biogeografia histórica tenta analisar escalas temporais maiores considerando somente a evolução de linhagens que são afetadas pelas mudanças geográficas (Posadas et. al., 2006). Ainda que no começo estas fossem duas visões conflitantes, nos últimos anos os pesquisadores perceberam a importância de fazer uma síntese que incorpore historia filogenética e processos ecológicos, como ferramenta na busca do entendimento processos históricos biogeográficos (Wiens & Donoghue, 2004). Algumas teorias atualmente integram as duas áreas da biogeografia, um exemplo claro é o “nicho conservado” que propõe que algumas características do nicho se conservam a traves da filogenia, limitando assim as possíveis dispersões das espécies (Machac et. al., 2011); alguns pesquisadores também avaliam a evolução das características morfológicas ou fisiológicas em resposta ao ambiente, e sua evolução dentro da filogenia (Gaston et. al. 2008). Com uma perspectiva de uma biogeografia unificada a ecologia pode incorporar os processos históricos biogeográficos como uma parte fundamental na unificação da teoria ecológica (Monje, 2008).
Os processos históricos biogeográficos são para a ecologia as interações entre os processos ecológicos, históricos e geográficos e ecológicos que definem a distribuição das espécies no espaço e desta forma também a estrutura das comunidades, e do conjunto de comunidades (Monje, 2008). Uma das grandes dificuldades é entender como integrar os processos que acontecem a escalas espaciais diferentes (globais, regionais e locais) (Riclefs, 1987), a traves de varias pesquisas tem sido possível ver como os processos que acontecem nestas diferentes escalas influem de jeitos diferentes tanto na diversidade local como na diversidade regional, por tanto, não é coerente procurar uma explicação somente em uma delas (lessard et. al., 2012; Harrison & Cornell, 2008). A especiação, competição, dispersão entre outros eventos que determinam a diversidade local, em conjunto, acabam definindo a diversidade regional, e em resposta a diversidade regional atua como uma fonte de espécies que afeta a diversidade local (Cornell, 1895).
Levando em conta o anterior, podemos imaginar os processos locais como pequenos pontos de divergência que aportam variação individualmente na distribuição das espécies, e, que em conjunto acabam formando a grande estrutura das comunidades numa escala regional, ou global mesmo (Cornell, 1895); no mesmo tempo processos geográficos acontecem constantemente, mudando as condições regionais e em consequência as condições locais e suas dinâmicas; ainda que esta ideia seja simples, é nela onde se encontra a chave para integrar a biogeografia numa teoria ecológica geral (lessard et. al., 2012; Harrison & Cornell, 2008). As condições geográficas do planeta são de um modo simples o cenário onde acontecem as interações entre comunidades, qualquer processo que seja descrito nesta teoria ecológica, é limitado e condicionado pelas condições da área onde acontece, direcionando assim as possíveis respostas a estas dinâmicas no nível de espécie, população, comunidade e metacomunidade.
Desde alguns anos atrás os ecólogos têm começado a procurar uma teoria ecológica geral que permita estabelecer padrões na evolução das comunidades e da diversidade, esta grande teoria se baseia em quatro tipos de processos: seleção, deriva, especiação e dispersão; os quais podem acontecer em escala regional, local e global (Vellend, 2010). Para integrar os processos históricos biogeográficos nesta grande teoria ecológica é importante identificar onde fazer a conexão com os anteriores quatro processos, e isto ainda não está muito claro; Vellend (2010) apresenta a ideia de que as dinâmicas locais, regionais e globais se influenciam mutuamente a traves da dispersão, assim, este processo funciona como um transportador de informação (indivíduos, espécies, populações, variabilidade genética etc.) entre as comunidades, e o conjunto de comunidades que podemos definir como metacomunidade (leiboldt, 2004). Se as comunidades fossem exatamente iguais em condições ambientais ou espaço, não seria difícil que começaram a se homogeneizar com o passo do tempo pois a competição favoreceria aos melhores competidores os quais se dispersariam e estabeleceriam exitosamente em todas as comunidades, porém, as variações geográficas que existem ao redor do planeta exercem limitações para esta homogeneidade e geram cenários de competição diferentes, nichos diferentes, assim mesmo uma variação na distribuição (Machac et. al., 2011).
As interações entre as dinâmicas das comunidades e as dinâmicas geográficas são responsáveis da distribuição da diversidade no planeta (Harrison & Cornell, 2008; Wiens & Donoghue, 2004). Este conceito pode virar muito mais complexo se pensamos que não somente as condições ambientais podem afetar ou condicionar a distribuição das espécies, mas, as espécies podem gerar condições ambientais especificas, desde pequenos microambientes, até mudanças tão drásticas como a que aconteceu com aparição dos organismos geradores de oxigênio. Com estas ideias na mente, podemos começar a procurar alternativas de integração dos quatro processos da teoria ecológica, dentro da biogeografia. Baseado nos conceitos de metacomunidades que se tem utilizado nos recentes anos (leiboldt, 2004), seria possível estabelecer modelos onde as condições geográficas e ambientais não fossem iguais entre as comunidades (e dizer: diferentes K, diferentes taxas de dispersão e condições ambientais). Deste jeito se incluiriam dispersão e seleção dentro dum cenário geográfico (Ronquist & Sanmartin, 2011). A deriva por sua parte é um conceito difícil de medir, Vellend (2010), apresenta uma revisão com estudos que mostram a importância da deriva em condições de equivalência ecológica, porém, este processo é estocástico tem que se tratar como altamente variável em qualquer modelo.
Finalmente a história filogenética dos organismos tem muito a ver com o ultimo processo da teoria ecológica, a especiação. Ainda que as condições ambientais, dispersão, e seleção e deriva determinam se uma espécie se estabelece ou não num lugar, é o ponto de origem das linhagens e sua evolução quem estabelece o curso recorrido (Wiens & Donoghue, 2004). Não importa se um lugar tem as condições para o estabelecimento de uma espécie, se a espécie é incapaz de chegar até lá desde seu ponto de origem, também é importante levar em conta que durante o processo de dispersão as linhagens podem apresentar adaptações a novas condições ambientais e novidades geográficas, os processos de especiação são os pontos de origem de cada linhagem, e são os outros três processos aqueles que determinam seu curso, sempre dentro de um marco de eventos geográficos.
Algumas linhagens podem nos ajudar a obter “pegadas” na descrição dos processos históricos biogeográficos, assim ao descobrir a historia de estas podemos descobrir a historia de muitas outras espécies. Este é o caso de linhagens conservadas no tempo (Sharma & Giribet, 2012), é interessante é útil perceber como estas linhagens têm coexistido com diferentes espécies e dentro de comunidades totalmente diferentes, com um ambiente que tem mudado drasticamente em vários momentos da historia. Este é o caso de alguns aracnídeos e em particular dos Amblypygi. Estes artrópodes, desconhecidos para a maioria de pessoas, tem se mantido quase invariáveis na sua morfologia desde o carbonífero ate nossos dias, sua distribuição e muito ampla, ao redor do tropico, é são importantes em ecossistemas de cavernas (Weygoldt, 2000).
Minha pesquisa, ainda que não seja ecológica, tem a ver com os processos históricos biogeográficos anteriormente descritos, o gênero Phrynus é um grupo de amblypígios praticamente restringido a America, e que se distribui amplamente desde Estados Unidos até America do sul em Brasil (Quintero, 1981). Este grupo, ainda não foi revisado e também não se conhece sua filogenia (Harvey, M. S. 2007; Quintero, 1981), as semelhanças morfológicas entre as espécies fazem com que se assuma que sua ecologia é igual, e mesmo no existem muitos trabalhos sobre as interações inter-especificas do grupo e praticamente nenhum sobre seu papel nas comunidades (Weygoldt, 2000). Objetivo do trabalho, é conhecer a distribuição das espécies do grupo, e descobrir sua historia filogenética, isto como base de um programa de pesquisa o qual tem o objetivo de desvelar a historia evolutiva do grupo. Levando em conta as nossas conclusões anteriores, não podemos conhecer esta historia somente com biogeografia histórica, é preciso conhecer a historia ecológica. No processo de minha pesquisa é importante incluir os conceitos de processos biogeográficos que estão, como já temos visto, unidos a teoria geral da ecologia. É importante observar ás espécies deste grupo não somente como uma linhagem, mas como uma linhagem dentro de uma dinâmica de comunidades.
Provavelmente os Phrynus tiveram sua origem em America central, e diversificaram a traves das diferentes ilhas do caribe já que sua maior diversidade está concentrada ali (Armas, 2014). Desde o Carbonífero a geografia Americana tem sofrido muitas mudanças, os Amblypygios ao parecer não são dispersores muito eficientes, porém se tem mantido exitosamente coexistindo com espécies do mesmo gênero, da mesma família e incluso outros aracnídeos (Weygoldt, 2000). Até agora o caminho recorrido por este gênero é totalmente desconhecido, o conhecimento das espécies existentes sua distribuição e filogenia, são as primeiras pegadas que se estão tentando coletar; as espécies desde grupo têm diversificado, dispersado, e interatuado com comunidades diferentes, incluso com espécies já extintas. Conhecer os processos históricos biogeográficos que ocorreram com este grupo, pode não somente dar uma ideia de como tem evoluído os amblypygi em America, mas de como evoluíram as comunidades ás quais pertenceram e qual é a situação deste grupo no presente.
Referências bibliográficas
Armas, L. F. 2014. Los Amblypygios de Cuba (Arachnida: Amblypygi). Revista Ibérica de Aracnología, 24: 29-51.
Cornell H.V. 1985. Local and regional richness of Cynipine gall wasps on California oaks. Ecology, 66: 1247-1260
Crisci, J.V. 2001. The voice of historical biogeography. Journal of Biogeography, 28: 157-168.
Leibold, M., Holyoak, M., Mouquet, N., Et al. 2004. The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology, 7: 601-613
Gaston, K., Chown, S. & Evans, K. 2008. Ecogeographical rules: elements of a synthesis. Ecology Letters, Journal of Biogeography, 35: 483-500.
Lessard, J., Borregaard, M., Fordyce, J. Et. al. 2012. Strong influence of regional species pools on continent-wide structuring of local communities. Proceedings of the royal society, 279: 266-274.
Harrison, S. & Cornell, H .2008. Toward a better understanding of the regional causes of local community richness. Ecology Letters, 11: 969-979.
Harvey, M. S. 2007. The smaller arachnid orders: diversity, descriptions and distributions from Linnaeus to the present (1758 to 2007). Zootaxa, 1668, 367-380.
Machac, A., Zrzavy, J., & Storch, D. 2011. Range Size Heritability in Carnivora Is Drivenby Geographic Constraints. The american naturalist, 177 (6): 767-779.
Monge-Nájera, J. 2008. Ecological biogeography: a review with emphasis on conservation and the neutral model. Gayana, 72(1): 102-112.
Posadas, P., Crisci, J. & Katinas, L .2006. Historical biogeography: A review of its basic concepts and critical issues. Journal of Arid Environments , 66: 389-403.
Quintero, D. 1981. The Amblypygid genus Phrynus in the Americas (Amblypygi, Phrynidae). Journal of Arachnology, 9: 117-166.
Ricklefs, R. E. 1987. Community diversity: relative roles of local and regional processes. Science, 235: 167-171.
Ronquist, F., & Sanmartin, I. 2011. Phylogenetic Methods in Biogeography. The Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 42: 441-464.
Sharma, P. & Giribet, G. 2012. Out of the Neotropics: Late Cretaceous colonization of Australasia by American arthropods. Proceedings of the royal society, 10: 1-9
Vellend, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The Quaterly Review of Biology ,85: 183-206
Weygoldt, P. 2000. Whip Spiders (Chelicerata: Amblypygi) Their Biology, Morphology and Systematics. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 164 pp.
Wiens, J. & Donoghue, M. 2004. Historical biogeography, ecology and species richness. Trends in Ecology and Evolution, 9 (12): 639 -644.
Resiliência no Monitoramento de Longo Prazo
Bruno Lenhaverde Sandy
O termo resiliência foi introduzido na literatura em 1973 por um ecólogo teórico C. S. Holling no artigo “Resilience and stability of ecological systems” como um meio de entender a dinâmica não-linear observada nos ecossistemas. Desde esta época, o conceito estava relacionado com o termo “estabilidade” sendo transportado das áreas de Matemática e Física para entender sobre a diversidade biológica relacionada com as funções ecológicas (Peterson et. al., 1998). Ele foi definido na literatura de duas formas distintas (resiliência engenharia e resiliência ecológica), cada uma refletindo diferentes aspectos de estabilidade. Holling enfatizou estes diferentes aspectos de estabilidade para chamar atenção para a distinção entre eficiência e persistência; constância e alteração; predição e não-predição. E definiu como a capacidade de um sistema retornar ao seu estado de equilíbrio após um distúrbio.
Resiliência está ligada a definição de estados alternativos e vem sendo discutido desde a década de 60 por autores como (May, 1971; Rosenzweig & McArthur, 1961) onde mostravam-se duas perspectivas desenvolvidas para descobrir como comunidades mudam de um estado para outro. A resiliência ecológica enfatiza condições longe de qualquer condição de estado estável, ou seja, qualquer instabilidade pode fazer o sistema sair de seu estado atual para outro estado estável. E neste caso, a resiliência é calculada pela quantidade de distúrbios que pode ser absorvido pelo sistema, redefinido estruturas pelas mudanças nas variáveis bem como nos processos de comportamento (Holling, 1973). Já a “resilience engineering” pode ser definida pelo tempo de retorno para o estado de resiliência e foi transferido da Engenharia que buscava entender sistemas de funcionamento lineares. (Holling, 1996).
Uma importante distinção entre estes dois tipos está na existência de múltiplos estados alternativos estáveis. A resiliência ecológica presume a existência de múltiplos estados estáveis e a tolerância do sistema frente as perturbações que facilitam a transição de um estado estável para outro (Ludwig et. al., 1996). E está presente no ciclo adaptativo ou “modelo de quatro fases de Holling (1996)”, onde descreve como padrões e processos mudam ao longo do tempo nos ecossistemas, especialmente quando ocorrem distúrbios. Holling descreve resiliência ecossistêmica nas primeiras duas fases do ciclo (Exploitativa e Conservativa).
Durante a fase exploitativa a resiliência ecológica é grande, ou seja, o sistema é capaz de absorver grande parte do distúrbio. Quando o sistema está para atingir o seu limite de crescimento, ou seja, a capacidade de suporte, torna-se cada vez mais frágil, consequentemente a velocidade de crescimento e a oferta de alimentos diminuem possibilitando que um distúrbio afete de forma mais severa os indivíduos da comunidade. Autores como Brown, 1996; Sonn, 1998; Waller, 2001; Klein, 2003, aplicaram o termo resiliência em diversos níveis como físico, sistemas ecológicos, sociais, individuais, população, comunidade e global.
A América Latina inclui uma grande diversidade de ecossistemas marinhos (Miloslavick et. al., 2011) que estão ameaçados pelos efeitos das mudanças climáticas globais e outros impactos antrópicos nas regiões costeiras (Turra et. al., 2013), Esses impactos podem resultar em degradação, fragmentação, perda de habitats (Fraschetti et. al., 2008), alterações na composição e distribuição (Martins et. al, 2012) com consequente redução da biodiversidade em escala de espécie, hábitat ou mesmo ecossistema. A influência do homem sobre estes ecossistemas aumentou de maneira significativa, crescendo a um ritmo sem precedentes (Berchez et. al., 2008). Respostas específica são esperadas para cada habitat, relacionadas a reação de cada espécie e as interações sinérgicas dentro das unidades funcionais das comunidades (Burrows et. al., 2011). É essencial portanto que se incentivem e desenvolvam estudos de monitoramento para entender os efeitos das mudanças climáticas nesses ecossistemas, de forma a permitir a detecção precoce de alterações (Turra et. al., 2013).. Mesmo ao se considerar estudos temporalmente pontuais, apenas uma área surpreendentemente pequena das comunidades bentônicas de substrato consolidado do litoral do Brasil é conhecida (Ghilardi et al., 2008). Dados de séries temporais se fazem necessários a partir da criação de estações distribuídas por toda a costa brasileira (Turra et. al., 2013).
A nível de ecossistema, os marinhos como os costões rochosos, são submetidos a uma série de fatores causadores de estresse. Entre eles as atividades humanas, fatores ambientais naturais como ação das marés e ondas impactando outros níveis, originando alterações na estrutura da comunidade em diferentes escalas espaciais (Burrows et al., 2011). A velocidade em que os habitats estão sendo alterados vem sendo maior que a eficiência das iniciativas atuais para seu estudo (Norse & Crowder 2005). Logo, duas razões fundamentais para o monitoramento ambiental são: (I) para estabelecer linhas de base que represente o status atual dos componentes dos ecossistemas e; (II) detectar alterações ao longo do tempo, ou seja, todas as alterações que vão além das oscilações naturais do ambiente (H. Vaughan et. al., 2001).
Neste contexto, a partir das hipóteses contidas do meu projeto em que áreas de maior biodiversidade sejam mais afetadas e passem a apresentar maiores oscilações sazonais e, que o aumento na temperatura da água do mar possa alterar a distribuição espacial das espécies nativas, de modo que regiões biogeográficas conhecidas, poderiam ser alteradas globalmente; o conceito de resiliência ecológica juntamente com dados prévios do local - dados de análises de séries temporais (Hawkins et. al., 2008) auxiliariam na compreensão da dinâmica do costão rochoso, ou seja, se tal local está atualmente em um estado de equilíbrio estável ou a partir de variáveis mensuráveis com aquecimento do mar, o aumento na sua movimentação, do seu nível médio, a redução do pH ou alterações nutricionais (Berchez et. al., 2008) estaria transitando de um estado estável anterior para futuro.
Referências Bibliográficas
Berchez, F.; Amancio, C.E.; Ghilardi, N.P. & Oliveira, E.C. “Possíveis impactos das mudanças climáticas globais nas comunidades de organismos marinhos bentônicos da costa brasileira”. In: Buckeridge, M. (ed.) Biologia e mudanças globais no Brasil, São Carlos, ISBN: 978-85-7656-143-9, p. 167-180. 2008.
Burrows, M.T.; Schoeman, D.S.; Buckley, L.B; Moore, P.; and others. The Pace of Shifting Climate in Marine and Terrestrial Ecosystems. Science, 334: 652-655. 2011.
Brown, D., & Kulig, J. (1996/97). The concept of resiliency: Theoretical lessons from community research. Health and Canadian Society, 4, 29–52.
Drake JA. 1991. Community-assembly mechanics and the structure of an experimental species ensemble. Am Nat 137: 1–26.
Frashetti, S.; Terlizzi, A. & Boero, F. How many habitats are there in the sea (and where)?. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, (366): 109-115. 2008
Ghilardi, N. P.; Pereira Filho, G.H. & Berchez, F. Current knowledge status on the ecology of hard bottom benthic communities in Brazil and the need for new approaches. Oecologia Brasiliensis, 12: 197-205. 2008
Hawkins, S J, et al. “Complex interactions in a rapidly changing world: responses of rocky shore communities to recent climate change.” Climate research 37.2-3 (2008):123-133
Holling, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4: 1–23.
Holling CS. 1986. The resilience of terrestrial ecosystems: local surprise and global change In Sustainable Development of the Biosphere, ed. WC Clark, RE Munn, pp. 292–317. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Holling CS. 1996. Engineering resilience vs. ecological resilience. In Engineering Within Ecological Constraints, ed. PC Schulze, pp. 31–43.Washington, DC: Natl. Acad.
Ives AR. 1995. Measuring resilience in stochastic-systems. Ecol. Monogr. 65:217–33
Klein, R., Nicholls, R., & Thomalla, F. (2003). Resilience to natural hazards: How seful is this concept? Environmental Hazards, 5, 35–45.
Law R and Morton RD. 1993. Alternative permanent states of ecological communities. Ecology 74: 1347–61.
Lewontin RC. 1969. The meaning of stability. Brookhaven Symp Biol 22: 13–23
Ludwig D, Walker B, Holling CS. 1996. Sustainability, stability and resilience.Conserv. Ecol. 1:1–27
May, R. M. 1 971. Stability in multi-species community models. Matk Biosei. 1 2:59-79
Martins CDL, Arantes N, Faveri C et al. (2012) The impact of coastal urbanization on the structure of phytobenthic communities in southern Brazil. Marine Pollution Bulletin, 64, 772–778.
Miloslavich P, Klein E, D_ıaz JM et al. (2011) Marine biodiversity in the Atlantic and Pacific Coasts of South America: knowledge and gaps. PLoS ONE, 6, e14631.
Murray, S.N.; Ambrose, R.F. & Dethier, M.N. Monitoring rocky shores. University of California Press, Berkeley, 220p. 2006.
Norris, F.H., S.P. Stevens, et al. 2008. “Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness’’. American Journal of Community Psychology, 41(1-2): 127- 150.
Norse, E.A., L.B. Crowder, K. Gjerde, D. Hyrenbach, C.M. Roberts, C. Safina & M.E. Soulé (2005). Place-based ecosystem management in the open ocean. Pp. 302-327 in E.A.
Norse & L.B. Crowder, eds. (2005) Marine Conservation Biology: The Science of Maintaining the Sea’s Biodiversity. Island Press, Washington DC.Rosenzweig, M. L., MacArthur, R. H. 1 963. Graphical representation and stability condition of predator-prey interactions. Am. Natur. 97:209-23
Sonn, C., & Fisher, A. (1998). Sense of community: Community resilient responses to oppression and change. Journal of Community Psychology, 26, 457–472.
Sutherland JP. 1974. Multiple stable points in natural communities. Am Nat 108: 859–73
Tilman D, Downing JA. 1994. Biodiversity and stability in grasslands. Nature 367:363–65
Turra, A.; Bernardino, A.F.; Amaral, A.C.Z.; Berchez, F; Creed, J.C.; Copertino, M. S; Schaeffer-Novelli, Y. & Coutinho, R. Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos): histórico e estratégia de atuação. II Workshop da Rebentos, Salvador, CD Resumos. 2011.
Vaughan H., Brydges T., Fenech A., Lumb A. (2001). Monitoring long-term ecological changes through the ecological monitoring and assessment network: science-based and policy relevant. Environmental Monitoring and Assessment Kluwer Academic Publishers 67: 3–28.
Waller, M. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 290–297.
Limitação de dispersão: o segredo da coexistência em comunidades arbóreas
Leticia Bolian Zimback
Em comunidades biológicas o conceito de dispersão é bastante abrangente. A dispersão pode referir-se ao movimento de migração de indivíduos de uma ilha para outra, representando um processo importante para a redução das taxas de extinção em habitats isolados (Teoria da Biogeografia de Ilhas - MacArthur & Wilson, 1967). Em contextos biogeográficos e\ou históricos, a dispersão, e também a especiação, são processos que adicionam espécies na comunidade em grandes escalas espaciais e temporais (Ricklefts, 1987). Por outro lado, em escala local, a dispersão é o processo que conecta comunidades locais em uma única metacomunidade (Leibold, 2009). Em comunidades vegetais, a dispersão ocorre através do movimento de propágulos reprodutivos, como as sementes. De forma geral, a dispersão corresponde ao movimento entre unidades espaciais (Loreau, 2000) influenciando a abundância das populações e, consequentemente, como as espécies interagem umas com as outras.
A dispersão é extremamente importante para a teoria ecológica, relaciona-se com a forma e frequência com que novas espécies ou indivíduos chegam a determinadas comunidades e, também com a manutenção das espécies e coexistência entre elas (Vellend, 2010). Pensando em comunidades vegetais, a dispersão de sementes é um processo muito importante para a dinâmica e regeneração da comunidade. Através da dispersão, as sementes podem chegar a locais propícios para germinar e se estabelecer. Da mesma maneira, as sementes podem atingir locais onde o seu estabelecimento não seja possível. Assim, esse processo faz com que as taxas de crescimento populacional e a abundância das espécies sejam controladas e a chegada de sementes seja espacialmente limitada dentro da comunidade.
A limitação de dispersão é a proporção de sítios que uma semente de uma determinada espécie pode alcançar dentro de todo o espaço físico da comunidade (Muller-Landau et al. 2002). Alta limitação de dispersão indica que a ocorrência da espécie é fortemente limitada pela dispersão das suas sementes. Nesse caso a chegada da semente costuma ser um evento determinístico e restrito a poucos locais onde a diversidade provavelmente será baixa. Dessa maneira, a comunidade como um todo é um conjunto de sítios que se diferem estocasticamente com relação a composição de espécies (Hurtt e Pacala, 1995). Isso aumenta a competição intraespecífica porque os propágulos se distribuem de forma mais agregada, mas por outro lado, diminui a interespecífica permitindo a coexistência regional entre as espécies (Pacala e Levin, 1997).
Diferentes limitações de dispersão entre as espécies faz com que as piores competidoras consigam atingir locais que as melhores competidoras não podem chegar, isso faz com que as espécies coexistam e a comunidade não se torne monodominante. A análise da dispersão das sementes em várias escalas dentro da comunidade é importante para entender justamente como essa comunidade mantém a sua diversidade. Segundo a terminologia de Whittaker (1972), a diversidade de uma comunidade pode ser subdividida em alfa (local), beta (diferença entre diferentes sítios da comunidade) e gama (diversidade regional da comunidade como um todo, leva em conta alfa e beta). Assim, as diferentes histórias de vida e limitações de dispersão de cada espécie da comunidade geram um balanço entre as diversidades alfa e beta (Loreau, 2000) e ajudam a entender melhor a dinâmica espacial das comunidades e a coexistência entre as espécies.
A dispersão de sementes é um processo essencial em comunidades vegetais. Isso por ser uma das fases mais importantes para a dinâmica e regeneração da comunidade e, também, por depender de outros agentes para que o processo ocorra. Assim, a partir do processo de dispersão é possível compreender como uma comunidade se estrutura e se mantém, gerando conhecimentos que embasam estudos voltados para regeneração e restauração florestal. No meu estudo, busco entender como a limitação de dispersão possibilita a coexistência das espécies em uma comunidade vegetal.
A partir de um fragmento vegetal característico da transição restinga-encosta, com manchas de Floresta Paludosa, pretendo investigar a coexistência de 120 espécies arbóreas existentes nessa comunidade. Minha hipótese é que a coexistência dessas espécies se relaciona com as diferenças de limitação de dispersão entre as espécies. Para testar essa hipótese vou identificar as sementes que estão chegando ao solo e verificar a distribuição da limitação de dispersão entre as 120 espécies da comunidade. O esperado é que a distribuição seja bastante homogênea, indicando a existência de espécies com diferentes capacidades de dispersão. Outras informações importantes para corroborar essa hipótese são as diversidades alfa, medidas em cada um dos coletores amostrados no fragmento e as diversidades beta e gama da comunidade. Espero encontrar pequenos valores de diversidade em cada coletor, devido ao processo determinístico local de chegada de sementes, e valores maiores de diversidade entre os coletores, por conta do processo estocástico de chegada de sementes em diferentes pontos ao longo da comunidade. Logicamente, espero encontrar também uma diversidade regional maior que abranja toda a comunidade. Esses resultados relacionam a capacidade de dispersão e o balanço entre diversidade alfa e beta com a coexistência das espécies.
A importância do processo de dispersão costuma ser reconhecida em grandes escalas espaciais, porém esse processo também é fundamental em escalas menores. Mesmo em apenas um fragmento florestal pode-se identificar diversas unidades espaciais que podem estar conectadas através do processo de dispersão. Além disso, cada uma dessas unidades espaciais pode ser fonte de sementes com a mesma capacidade de dispersão que se difere significativamente de outras unidades. Assim, uma comunidade bem estruturada consegue se manter estável através do processo de dispersão diferenciado entre as espécies.
Referências bibliográficas
HURTT, G. C. & PACALA, S. W. 1995. The consequences of recruitment limitation: reconciling chance, history and competitive differences between plants. Journal of Theoretical Biology, 176: 1-12.
LEIBOLD, M. A. 2009. Spatial and metacommunity dynamics in biodiversity. In: “The Princeton guide to ecology”, Simon A. Levin. Princeton University Press, p. 312-319.
LOREAU, M. 2000. Are communities saturated? On the relationship between alfa, beta and gama diversity. Ecology Letters, 3: 73-76.
MACARTHUR, R. M. & WILSON, E. O. 1967. The theory of island biogeography. Princeton University Press.
MULLER-LANDAU, H. C. et al. 2002. Assessing recruitment limitation: concepts, methods and case-studies from a tropical forest. In: “Seed dispersal”, Levey, pp. 35-53.
PACALA, S. W. & LEVIN, S. A. 1997. Biologically generated spacial pattern and the coexistence of competing species. In: “Spacial ecology: the role of space in population dynamics and interspecific interactions.”, Tilman, D. & Kareiva, P. Princeton University Press, pp. 204-232.
RICKLEFTS R. E. 1987. Community diversity: relative roles of local and regional processes. Science, New Series, 235(4785): 167-171.
VELLEND, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The quarterly review of biology, 85(2): 183-206.
WHITTAKER, R. H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. Taxon, 21(2/3): 213-251.
Nicho, competição e estrutura da comunidade
Myldred Ometto Spinelli
O conceito de nicho ecológico foi proposto primeiramente por Johnson, entretanto foi pouco utilizado até que Grinnell (1917) retomou o termo e o tornou amplamente conhecido. Ele o definiu nicho como o “local” da espécie na comunidade ecológica, levando a ideia de que se uma espécie não ocorre em determinada área, o nicho que seria ocupado por ela estaria vazio. Em 1957, Hutchinson apresentou uma nova definição de nicho, definindo-o como a amplitude de condições ambientais que permitem a persistência de uma população em um determinado local, ou seja, a população apresenta um crescimento populacional acima ou igual a zero. Desta forma, ele é um hipervolume n-dimensional, onde as condições ambientais podem ser consideradas abióticas (temperatura, umidade, por exemplo) e bióticas (interações entre as espécies) (Schoener, 2009).
Em comunidades naturais, as espécies não ocorrem isoladamente, desta forma, Hutchinson definiu como nicho fundamental o nicho que a população ocuparia na ausência de outras espécies e nicho realizado a porção do nicho fundamental ocupado pela população na presença de outras espécies que competem com estas por recursos (Schoener, 2009). Este conceito é chave na ecologia de comunidades, pois cabe a ela entender quais características das espécies permitem à elas manterem-se no espaço e no tempo (Giacomini, 2007), além disto, em qualquer comunidade, existem espécies coexistindo, implicando uma sobreposição espaço-temporal na distribuição de algumas espécie (Giacomini, 2007).
A quantificação de nicho pode ser expressa por uma noção de amplitude e sobreposição, onde as espécies dentro de uma comunidade partilham os recursos disponíveis entre si. Este fator é determinante da diversidade das espécies que coexistentes (Pianka, 1974). MacArthur e Levins propuseram que não pode haver uma grande sobreposição de nicho para que as espécies possam coexistir, pois se assim for, o competidor superior irá levar o outro a extinção local. O grau máximo em que duas espécies podem ser semelhantes e coexistirem é chamado de similaridade limitante (sobreposição de nicho mediana) (Schoener, 2009). Desta forma, as relações tróficas estão entre as mais importantes na organização das comunidades ecológicas (Rocha, 1994; Pianka & Vitt, 2003). Sendo assim, a determinação da dieta é uma atividade que envolve aspectos relacionados à história evolutiva, tamanho corpóreo, especialização relacionada ao habitat e disponibilidade de alimento (Pianka & Vitt, 2003).
O objetivo do meu trabalho é avaliar o uso do espaço e a dieta de três espécies de felídeos de pequeno porte (Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii e Puma yagouaroundi) em uma área de silvicultura de eucalipto. A presença de uma espécie significa que a área abriga as condições necessárias para sua presença na área. Desta forma, através da análise da dieta e uso do espaço será possível identificar algumas dimensões dos nichos ocupados por estas espécies simpátricas em uma paisagem antropizada.
O meu estudo pretende compreender como é o uso do espaço por felídeos de pequeno porte em uma paisagem composta por uma matriz de eucalipto, pastos abandonados e vegetação nativa constituída de Cerrado e Mata Atlântica. Para isto, será analisada a área de vida, uso do habitat, padrão de movimentação, padrão temporal de atividades e dieta. Desta forma, será possível definir diversas dimensões que permitem às espécies estarem presentes na área (amplitude de nicho), assim como a sobreposição de nicho destas populações, compreendendo como partilham os recursos existentes de forma a coexistiram no espaço e no tempo.
Referências bibliográficas
Giacomini, H. C. Os mecanismos de coexistência de espécies como vistos pela teoria ecológica. Oecol. Bras., 11 (4): 521-543, 2007.
Grinnell, J. The niche relationships of the California thrasher. Auk 34: 427-433, 1917.
Hutchinson, G.E. Concluding remarks. Cold spring harbor symposia on quantitative biology 22: 415-427, 1957.
MacArthur, R.H. e Levins, R. The limiting similarity, convergence and divergence of coexisting species. American Naturalist 101: 377-385, 1967.
Pianka, E.R. Niche overlap and diffuse competition. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 71 (5): 2141-2145, 1974.
Pianka, E.R. e Vitt, L.J. Lizards: windows to the evolution of diversity. London: University of California Press, Ltd, p. 333, 2003.
Rocha, C.F.D. Introdução a ecologia de lagartos brasileiros. In: Nascimento, L.B., Bernardes, A.T. e Cotta, G.A. Herpetologia do Brasil 1, p.p. 134, 1994.
Schoener, T.W. The ecological niche. In: Levin, S.A. (ed). The princeton guide to ecology. Princeton University Press, p. 3-13, 2009.
Espaço e Território
Gabriela de Lima Marin
Dentro do panorama geral da ecologia de comunidades, a territorialidade está diretamente ligada à teoria de nichos e à competição. Existe, inclusive, um nome mais específico de competição para territorialidade em animais: competição por interferência, que descreve os casos nos quais um indivíduo não acaba com o recurso existente, mas impede o acesso de outros indivíduos a este recurso (Begon et al, 2005). Quando a territorialidade é expressa contra indivíduos de outras espécies ela está diretamente dentro do âmbito da Ecologia de Comunidades (interação entre espécies), mas em geral, a territorialidade se manifesta entre indivíduos da mesma espécie (competição intraspecífica). Neste caso, um dos efeitos que a ela pode ter na comunidade é permitir a coexistência de espécies (MacArthur, 1958), já que diminui sua densidade populacional e permite que outra (pior competidora) também ocupe essa região. Como essas relações entre territorialidade e comunidade já são bastante conhecidas, e, além disso, a territorialidade, a meu ver, é um tema essencialmente espacial, optei por associar meu tema de pesquisa à Ecologia Espacial.
As interações entre espécies e também a diversidade local de espécies foi inicialmente explicada no início do século XX, em Ecologia de Comunidades, através de modelos determinísticos, que são equações diferenciais ordinais (EDOs;) (ex. competição, predação Lotka-Volterra, facilitação) que descrevem a dinâmica populacional de 1 ou mais espécies. Desde então, diversos avanços conceituais e analíticos foram alcançados. Um dos principais foi a inclusão do espaço como explicação para os padrões observados. Esta inclusão não aconteceu por acaso: acumulou-se consideráveis evidências de que o espaço afeta a dinâmica das populações e a estrutura da comunidade (Cantrell & Cosner, 2003) e em muitos casos, esses modelos que consideravam os fatores habitualmente tratados em ecologia não eram capazes de explicar os padrões observados (Cantrell & Cosner, 2003). O modelo de competição, por exemplo, previa que somente uma das espécies competidoras deveria permanecer no local caso ambas dependessem de um único recurso (Lotka, 1925; Volterra, 1928), no entanto, observa-se grande diversidade de organismos em ambientes com pouca variedade de recursos (ex. pradarias ou lagos) (Tilman & Kareiva, 1997), problema conhecido como Paradoxo de Hutchinson. Considerar a heterogeneidade do ambiente e a possibilidade de dispersão (aspectos espaciais do ambiente) permitiu explicar essa grande diversidade (Tilman & Kareiva, 1997).
A área da Ecologia que se propôs a estudar a influência do espaço é justamente a Ecologia Espacial e algumas de suas principais áreas de estudo são: estabilidade da comunidade, padrões de diversidade, invasões biológicas, coexistência e geração de padrões espaciais (Tilman & Kareiva, 1997). Modelos espaciais são aqueles que consideram a estrutura espacial do ambiente (Tilman & Kareiva, 1997) de maneira implícita ou explicita. Nos modelos espacialmente implícitos, podem ser incluídos parâmetros que são correlacionados com a escala espacial (ex. distância do continente na biogeografia de ilhas) ou então podem descrever que uma fração do ambiente está ocupada por uma espécie sem especificar qual é o arranjo espacial dessa fração (ex. porcentagem de manchas ocupadas no modelo de Metapopulações) (Cantrell & Cosner, 2003). Ou seja, a importância do espaço é reconhecida, mas os parâmetros de interesse não são localizados no espaço (taxas de colonização/extinção na Biogeografia e % manchas ocupadas na Metapopulações). Já os modelos espacialmente explícitos são aqueles em que cada indivíduo possui uma posição determinada por um sistema de coordenadas e os pontos diferentes podem ter características diferentes (Tilman & Kareiva, 1997) ou então, aquele que a variável analisada depende diretamente do espaço (Zavala et al, 2006).
Atualmente existem diversos tipos de modelos espacialmente explícitos (ex. equação de reação-difusão, celullar automata, sistema de partículas interativas, modelos baseados em indivíduo, equação de advecção-difusão) utilizando diversas técnicas analíticas. Eles variam no grau de detalhamento espacial (macroscópico, intermediário, microscópico) e na generalidade que podem alcançar (Díaz-Sierra & Zavala, 2008). Uma dessas técnicas analíticas, que pode ser usada para detalhamento intermediário e microscópico, são as Equações Diferenciais Parciais (EDP). Essa é uma das principais ferramentas matemáticas para analisar processos espaço-temporais (Holmes et al, 1994). Comparando com as equações antes utilizadas para os modelos (EDOs), elas são matematicamente mais complicadas, mas são mais realistas (podem alcançar nível de detalhe microscópico) e têm a vantagem de possibilitar ao modelador incorporar processos temporais e espaciais ao mesmo tempo em equações que governam a dinâmica populacional (Holmes et al, 1994). Basicamente, elas modelam o fenômeno de difusão (Díaz-Sierra & Zavala, 2008) e podem ser usadas para descrever o movimento das espécies, populações ou indivíduo como difusão (Tilman & Kareiva, 1997; Skellam, 1951).
Uma das possibilidades de aplicação dessa ferramenta foi introduzida por Skellam (1951). Ele fez a ligação entre a caminhada aleatória como descritor do movimento individual e a equação de difusão dos gases como descritor da dispersão no nível da espécie. Além disso, juntou a descrição da dispersão através da difusão com a dinâmica populacional (crescimento exponencial e logístico) para explicar a invasão biológica de um roedor na Europa. Ele fez isso através de um tipo especial de equação diferencial parcial, as equações de reação-difusão (Cantrell & Cosner, 2003). Para a ecologia, o termo da equação que representa a “reação” inclui os processos populacionais e as interações com outras espécies (ex. expressão do crescimento logístico) e o termo “difusão” descreve o movimento dos indivíduos ou população (geralmente corresponde ao processo de difusão passiva) (Tilman & Kareiva, 1997). Além do objetivo proposto por Skellam (1951), essa ferramenta foi utilizada para explicar outros processos ecológicos como dispersão, coexistência entre espécies e formação de padrões espaciais estáveis (Okubo, 1980; Azevedo, 2013).
Outro tipo de EDP utilizada em estudos de ecologia espacial é a equação de advecção-difusão. Esse tipo de equação é utilizado principalmente na área de seleção de habitat (Grünbaum, 1998). Nesse caso, difusão descreve o movimento individual (a probabilidade de movimento do indivíduo) e o termo advecção introduz um viés na difusão (probabilidades diferente para cada direção/sentido do movimento) (Lewin et al, 2005; Moorcroft et al, 1999); ele direciona o movimento (Azevedo, 2013). Na ecologia, esse viés pode representar a fidelidade de sítio (a memória do indivíduo) ou também, como já foi utilizado em estudos sobre fragmentação, para descrever o animal que atravessa a matriz de um fragmento para outro. Esse viés é adicionado pois, como a matriz é um ambiente hostil, o indivíduo deve atravessar o mais reto possível esse ambiente. O efeito desse viés foi favorecer a permanência da espécie na paisagem e em fragmentos pequenos (Azevedo, 2013). As informações inseridas nas equações são médias provenientes de estudos de campo e eslas irão descrever um estado estável de arranjo espacial (Potts & Lewis, 2014). Um aspecto interessante sobre esses modelos é que, por determinar o padrão espacial através do movimento individual, ele descreve um possível processo pelo qual o padrão se forma (Tilman & Kareiva, 1997).
Em meu mestrado, irei descrever como o tamanho e a sobreposição da área de vida variam em função de alguns fatores ambientais e individuais em conjunto para três espécies de roedores da Mata Atlântica. Portanto, meu mestrado é essencialmente descritivo e não é espacialmente explícito, pois eu não preciso saber onde estão os indivíduos. Tomando contato com as EDPs, que permitem incluir difusão em estudos populacionais e descrever movimentos individuais com a possibilidade de determinar direções preferenciais, decidi estudar se e, em caso afirmativo, como essas ferramentas poderiam ser utilizadas no estudo da territorialidade, i.e. como seria o estudo da territorialidade espacialmente explicito. De fato, já existem trabalhos que abordam territorialidade dessa forma: Lewis & Murray (1993) propuseram o uso das equações de advecção-difusão para determinar a formação de territórios de lobos em uma dimensão. O termo de advecção traduz, nesse caso, a seguinte informação: lobos evitam áreas que contém marcação odorífera de outros indivíduos e vão para o centro da área de vida; e o termo de difusão representa o movimento dos indivíduos para um lado ou para outro. Com esse mecanismo simples, alguns trabalhos foram capazes de chegar em padrões de territórios em duas dimensões, com baixa sobreposição e com algumas regiões sem indivíduos dessa espécie (regiões entre marcação de 2 indivíduos) que serviram como refúgio para as presas da espécie (Moorcroft, 1999; Potts et al, 2014). Esses padrões foram encontrados independente de heterogeneidade espacial (mais ou menos recurso) e mesmo assim foram capazes de explicar grande parte da distribuição espacial de 2 espécies da comunidade (lobo e veado) no parque de Yellowstone (Moorcroft, 1999; Potts et al, 2014).
Por mais que seja muito interessante que praticamente uma fórmula matemática seja capaz de gerar um padrão observado em campo, é importante lembrar que esse modelo depende de uma informação obtida provavelmente em estudos descritivos de população e comunidade: que lobos se alimentem de veados e que eles evitam regiões com marcação de outros lobos. Assim, estudos descritivos ainda são úteis (não adianta chegar a um padrão que não se sabe se é observado na natureza). O mais interessante seria ter os dois estudos (descritivo e mecanístico) relacionados (Werner, 1998). No meu caso, não só descrever territórios, mas também avaliar os mecanismos que geram territórios nesses roedores.
Para os dois tipos de EDP já houveram avanços além dos descritos aqui. Alguns exemplos são (1) inclusão da possibilidade de territórios mudarem de lugar ao longo do tempo e não mais serem tratados como padrões estáveis (Bateman et al, 2014) como era apontado como falha desse tipo de abordagem (Tilman & Kareiva, 1997); (2) junção dos dois tipos de equação para descrever a persistência de populações em sistemas fragmentados (equações de reação-difusão-advecção) (Azevedo, 2013) ou (3) a persistência de populações/comunidades de microrganismos no alto de um rio (seria esperado que os indivíduos fossem levados até a foz pela correnteza).De uma forma geral, pode-se perceber que a inclusão do espaço como variável explicativa aumenta bastante o poder de explicação das dinâmicas dentro da Comunidade e de padrões observados nas populações. Para os dois casos, ela permite descrever processos que podem gerar o padrão observado. Estudar um fenômeno natural tanto por padrão quanto pelos processos que podem gerar esse padrão é bastante importante atualmente e a combinação das duas frentes dentro de um projeto/programa de pesquisa é bastante desejada (Werner, 1998). Sobre as EDP, embora existam outros tipos de modelos espacialmente explícitos que possibilitam análises mais detalhadas, por ser possível incluir a média populacional e possibilitar tratar espaço e tempo como contínuos, elas ainda são e serão muito úteis.
Referências Bibliográficas:
Azevedo, F. S. D. (2013). Sistemas ecológicos modelados por equações de reação-difusão. (Doutorado). Instituto de Física Teórica, Universidade Estadual Paulista, 71p.
Bateman, A. W., Lewis, M. A., Gall, G., Manser, M. B. & Clutton-Brock, T. H. (2014). Territoriality and home-range dynamics in meerkats Suricata suricatta. Journal of Animal Ecology, doi: 10.1111/1365-2656.12267
Begon, M., Townsend, C. R., J. L. (2005). Ecology: From Individuals to Ecosystems. 4th Edition Wiley-Blackwell, 752pp.
Cantrell, R. S., & Cosner, C. (2003). Spatial ecology via reaction-diffusion equations. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley.
Díaz-Sierra, R. & Zavala, M. A. (2008). Modelos Espacialmente Explicito, pp. 371-409. Em: Introducción al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales: métodos y aplicaciones. F. T. Maestre, A. Escudero & A. Bonet (editores). Universidad Rey Juan Carlos.
Grünbaum, D. (1998). Using Spatially Explicit Models to Characterize Foraging Performance in Heterogeneous Landscapes. The American Naturalist, 151(2): 97-113.
Holmes, E. E., Lewis, M. A., Banks J. E. & Veit, R. R. (1994). Partial Differential Equations in Ecology: Spatial Interactions and Population Dynamics. Ecology, 75(1): 17-29.
Lewis, M. A. & Murray, J. D. (1993). Modelling territoriality and wolf–deer interactions. Nature, 366: 738–740. (doi:10.1038/366738a0)
Lewis, M. A., Hillen, T., & Lutscher, F. (2005). Spatial dynamics in ecology. IAS/Park City Math. Series, 15: 3–21.
Lotka, A. J. (1925). Elements of Physical Biology. Williams and Wikins
MacArthur, R. H. (1958). Population ecology of some warblers of northeastern coniferous forests. Ecology, 39(4): 599-619.
Moorcroft , P. R., Lewis, M. A., Crabtree, R. L. (1999). Home range analysis using a mechanistic home range model. Ecology. 80: 1656–1665. (doi:10.1890/0012-9658(1999)080[1656:HRAUAM]2.0.CO;2)
Okubo, A. (1980) Diffusion and Ecological Problems: Mathematical Models. (Biomathematics, Vol. 10.) Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 254 pp.
Potts, J. R., Lewis, M. A. (2014). How do Animals territories form and change? Lessons from 20 years of mechanistic modelling. J. R. Soc. Interface 11: 20140333
Skellam, J. G. (1951). Random Dispersal in Theoretical Population. Biometrika, 38 (1-2): 196-218. doi:10.1093/biomet/38.1-2.196
Tilman, D. & . Kareiva, P. (1997). Spatial Ecology: the Role of Spare in Population Dynamics and Interspecies Interactions. Princeton University Press, Princeton, NJ 365p.
Volterra, V. (1928). Variation and Fluctuation of the Number of Individuals in Animal Species Living Together. J. Cons. Cons. Int. Expor. Mer 3: 3-51
Werner, E. E. (1998). Ecological experiments and a research program in community ecology. pp 3-27 Em: Resetarits B. & J. Bernardo. Experimental ecology: issues and perspectives. Oxford University Press.
Zavala, M. A., Díaz-Sierra, R., Purves, D., Zea G. E. & Urbieta, I. R. (2006). Modelos Espacialmente Explícitos. Ecosistemas, 15 (3): 88-99.